1º de dezembro: Aniversário da Abolição do Exército na Costa Rica
Texto: Rafael Cuevas Molina - Presidente AUNA-Costa Rica
Aguarde, carregando...
Entrevista com André Queiroz por Aline Goldberg
1
Aline Goldberg: Como foi o processo de criação do filme João Parapeito? Você pensou primeiro no enredo, na estrutura narrativa ou na composição do personagem?
Eu havia pensado em produzir uma trilogia de curtas metragens em homenagem a obra de Luiz Gonzaga Jr. Cada filme, de algum modo, dialogaria com uma canção – não de uma forma direta, ilustrativa, tampouco eu tinha claro os modos desta conversação entre a estrutura narrativa de cada um dos filmes e cada uma das canções. A princípio, isso era o que eu dispunha, ‘uma ideia na cabeça e um bloco de palavras para riscar o argumento de cada um dos curtas’. Escolhi os nomes dos filmes: João Parapeito, José Servil e Maria dos Anjos. E escolhi as canções que ‘caberiam’ dentro de cada filme: João do Amor Divino, É Preciso e Santa Maravilha.
E então, escrevi o argumento de cada um dos curtas. Não estavam roteirizados ainda. O argumento, em cinema, é como a história, o enredo descrito sem a forma dialogada, ou mesmo, sem a precisão de locação e do aprofundamento da trama que, com a escrita do roteiro, se vai experimentando, investigando e escrevendo. Todavia, já sabia o que queria contar em cada um dos filmes. E o que fiz foi tecer o percurso dos personagens que nomeavam a cada um dos filmes de forma entramada. Ou seja, seriam todos de uma mesma família, e mais precisamente, irmãos. Tal família estaria inscrita no êxodo que atravessa a vida de uma carrada de gentes assoladas pela violência e opressão no campo. Isto já me era claro neste instante. Uma família do Nordeste profundo que vai migrando em momentos distintos para o Rio de Janeiro, e no caso de João Parapeito, ele teria sido o primeiro dos irmãos, o primogênito que veio ‘tentar a sorte’ na metrópole, buscar trabalho para poder ajudar os pais, mandar o que desse todos os meses, e um dia (dia épico, imemorial, irrealizável), voltar para a sua terra, ou antes, e de outro modo, quem sabe poder ajudar e trazer os seus irmãos que haviam permanecido no Nordeste.
Digamos que até aí, nada de novo no front. Um certo cinema brasileiro se deteve maravilhosamente neste tema. Pensemos, por exemplo, na primeira fase do Cinema Novo, nos filmes de Nelson Pereira dos Santos, de Glauber Rocha, de Ruy Guerra, Vidas Secas, Deus e o diabo na terra do sol, Os Fuzis, outros tantos, e depois, mais para frente, o nordeste outra vez, O Homem que virou suco, e tantos e tantos filmes, e mais para cá, um nordeste reposto no imaginário fílmico, por vezes em modo e formato asseado, manipulado em gradação e em paleta de cores.
Com João Parapeito, estaria repetindo o mesmo mote, o Nordeste, a miséria, o êxodo? Não diria isto. Eu queria contar uma história que começava ali, que pautava questões que são prementes e centrais, evocando o lastro de violência sim, mas como evitar o que nos assalta os olhos, o assassinato sob encomenda, a desaparição contumaz de vidas que lutam e que buscam se organizar, e no bojo disto, o rastro que vão deixando pelo caminho, as marcas que ficam no corpo.
E arriscaria mais, não se tratava tão somente de um acúmulo que remete ao cinema que abordou, de alguma forma, tais questões, eu estava dialogando também com outras linguagens artísticas, estava dialogando com a literatura, com o romance social dos anos 30 – do qual sempre fui leitor voraz, e ao qual destinei diversos cursos na universidade. Cursos sobre a obra de José Lins do Rego, Jorge Amado, Graciliano Ramos – o ciclo da Cana de Açúcar, os desígnios do menino Carlinhos, que tão logo será Carlos de Melo, a pujança dos engenhos de José Paulino do tamanho do mundo e a decadência inscrita no corpo que envelhece e se faz decrépito, mas que além das marcas no corpo e da velhice é signo-sintoma das transformações do modo de produção na lavoura brasileira, a chegada da Usina, do maquinário industrial, dos representantes comerciais de interesses monopólicos, tudo isto que irá conformando novas relações de trabalho, que irá aprofundando os regimes de opressão e as distintas etapas estratégicas da luta de classes, e então o Moleque Ricardo que irá sair do engenho e se meter nas periferias do Recife, compreendendo de perto o processo de construção da greve geral entre os operários no chão de fábrica. Mas também os conflitos dispostos aos romances de Jorge Amado, a ocupação das terras virgens na zona do cacau, o imbricamento entre o aparato político-jurídico-penal na demarcação do latifúndio, os capatazes e o mandonismo dos coronéis, a relação perversa entre os centros de ensino e o poder político na conformação de seu referencial de sustentação ideológica, ou o Jorge Amado de Seara Vermelha, e outra vez o tema do êxodo, a família de Jucundina se desfazendo em mortes severinas na travessia do deserto do sertão, e Raquel de Queiroz de João Miguel levado ao cárcere e de O Quinze no que prima o ‘campo de refugiados, as doenças, o abandono, e Graciliano Ramos de Vidas Secas, Fabiano e o soldado amarelo, os pés descalços numa terra sem promissão, as Memórias do Cárcere quando da tirania policial e persecutória do Estado Novo, enfim, toda uma literatura que sempre me alimentou. Isto tudo estava nas origens da trilogia destes curtas, e na caracterização dos seus personagens.
2
Aline Goldberg: Em termos de composição, a linguagem documental e ficcional, em João Parapeito, se misturam. Em conversas, você usa o termo borramento. Gostaria que falasse um pouco sobre isso.
É que se tratava de utilizar um tipo de linguagem fílmica que evocasse a crueza e a gravidade do real, sua nervura direta, objetiva, concreta e material, nas quais o ator Thiago Carvalho circulasse em contato com pessoas comuns, em suas vidas cotidianas e comezinhas, nas atividades as mais básicas do dia a dia. Mas voltemos um pouco ao que mencionávamos na resposta anterior.
João Parapeito é o primogênito da família de retirantes, é o que inicia o êxodo na família. Ele vem para o Rio de Janeiro. Claro, as locações que utilizamos são, sobretudo, em Niterói, mas também no Rio de Janeiro. João Parapeito se torna um artista de rua. Afinal, seria algo estranho que ele viesse do Nordeste e se empregasse numa fábrica. Estávamos em 2020. João Parapeito não estaria habilitado para trabalhar no parque industrial aludido no filme de Luís Sérgio Person, São Paulo S.A. – afinal, o Brasil de hoje vem sendo desindustrializado nos últimos quarenta anos. É uma das heranças da ditadura empresarial-militar que pavimentou o terreno para o saqueio neoliberal dos anos FHC em diante.
João Parapeito está inscrito nos novos acordes da divisão internacional do trabalho. A parte que lhe cabe neste latifúndio é a do boia fria retirante, expulso (ou assassinado) pela capangagem do agronegócio, e quando chega na metrópole do sudeste, ele estará chegando numa cidade sitiada por distintos atores armados que fazem a sua divisão espacial-territorial por zonas e regiões de comando, aqui e ali grupos milicianos, ali e acolá as facções do tráfico de drogas, e no permeio de tudo, as distintas bandas policiais, do aparelho repressor, traçando a cartografia de controle no sistema de trocas mercantis e financeiras.
João Parapeito poderia trabalhar na construção civil, bater laje, chegar cedo, dia amanhecendo, marmita com arroz feijão linguiça ou ossos de frango, mas vá se ver se o mercado de trabalho da construção civil está para peixe – são os ativos da especulação imobiliária que dará as cartas da hora, e talvez não lhe restasse nada para enviar para a família, talvez não lhe restasse sequer a família na memória carcomida pelas urgências de deslocamentos intermináveis em horas desoladas nos transportes públicos caríssimos ao assalto das concessionárias da ‘parceria público-privada’. Ou talvez João Parapeito sequer voltasse para ‘casa’ depois da labuta, talvez tivesse que disputar seu metro-quinhão de sob alguma marquise na Av. Presidente Vargas. Ou, voltando no tempo, quiçá João Parapeito trabalhasse na portaria e na faxina de prédios e edifícios, mas o sistema de segurança privado com câmeras espalhadas em cada canto tornou oneroso e desnecessário este tipo de trabalho que já não seria capaz de absorver um João Parapeito chegando no Rio de Janeiro no final do primeiro quarto do século XXI.
João Parapeito toma para si o que lhe cabe – a rua, o trânsito, o que ainda lhe parece público. Ele circula nos vagões dos trens urbanos indo e vindo todos os dias, em pesada rotina, talvez tenha vendido paçoca, amendoim torrado, agora o que dele se sabe porque o filme mostra é que ele é frequentador assíduo dos restaurantes populares (detalhe: quando filmamos, em janeiro de 2020, a maioria dos restaurantes populares tinha sido fechado por corte de verba pública para seu funcionamento) onde come a 2 reais, e ele faz o que pode, qual seja, ele é expert em simular seu suicídio que, como na canção João do Amor Divino, de Gonzaguinha, João Parapeito é espécie de profissional hábil, que como tantos outros brasileiros vivem nesta corda banda, como equilibrista trágico que é, fadado a cair dia sim dia também; fadado a morrer aos poucos – sem atendimento, num fila de um hospital público abandonado porque seus recursos foram minguando para que ganhassem fábulas de dinheiro as ‘prestadoras’ de saúde particular que se costuma chamar de ‘planos de saúde; João Parapeito, como tantos brasileiros, está fadado a levantar, redivido, precaríssimo, esgotado de tanta morte diária e lenta, e lançar para frente seu corpo para mais um dia em que lhe será extorquida o que lhe resta de força de seus braços, até que lhe seja o esgotamento, a exaustão, a doença que lhe tome de arrasto em definitivo.
João Parapeito é alegoria de todos estes que estamos à míngua. Por isto me pareceu ser necessário que ele sobretudo estivesse em meio aos personagens sociais que ele espelha. E isto está posto através da estética narrativa – aspectos claros de um dispositivo documental que se entrecruza com os traços ficcionais de um personagem encarnado no corpo de um ator, e Thiago Carvalho expressou magistralmente este personagem arquetípico.

3
Aline Goldberg: Sobre o processo de pré-produção e produção de João Parapeito. Como se deu a negociação com os espaços filmados, com o ator, os figurantes? O filme foi rodado no centro de Niterói – em boa parte dele. Isso implicou alguma dificuldade, algum empecilho na captura das imagens?
Como se trata de uma produção independente, cujos recursos para a produção do filme vieram do meu próprio bolso – claro está tendo o auxílio precioso de várias pessoas que se dispuseram a participar nestas condições; tive que executar muitas funções. Exemplo disso foi a busca de locações e a luta pela liberação destes espaços. Particularmente isso se deu no que tange ao Edifício Garagem utilizado como ‘lugar’ de onde a personagem ‘se atirava’; no Restaurante Popular Cidadão Jorge Amado; na própria calçada da rua onde filmávamos o ‘corpo morto’ do personagem – deitado no chão, com saco preto em cima. Para que pudéssemos deslocar a equipe de filmagem, o ator e os figurantes, tive que negociar a liberação dos espaços com a Secretaria de Assistência Social, o Corpo de Bombeiros e a Polícia Militar, em Niterói.
O fato de ser uma produção que remetia ao Projeto de Pesquisa e Extensão Cinema e Memória na América Latina, que coordeno, no Instituto de Arte e Comunicação Social da UFF, assim como a Escola de Cinema Darcy Ribeiro, eram facilitadores para avançar no sentido de um entendimento mais fácil com as instituições. Sobretudo por ser uma produção sem recursos públicos ou privados, não tivemos qualquer verba de edital ou lei de incentivo fiscal.
Uma coisa que seria legal contar aqui foi o dispositivo que criei de espalhar alguns atores como figuração em meio aos passantes, e me refiro especificamente às cenas filmadas na rua em que ficava o Edifício Garagem. Eu os havia orientado a interferir junto às pessoas que passavam, instigando-as com questões, incitando-as a que buscassem se inteirar do que estava acontecendo no local. Enquanto isto, tínhamos três câmeras em posições estratégicas. Uma no ator, e outras duas captando a reação do público quando passava e via o ‘corpo morto’ coberto pelo pano preto no chão. O dispositivo buscava produzir uma fenda na rítmica acelerada dos dias atuais, as pessoas passam e simplesmente ignoram o que está ao seu lado. Procedimento de naturalização diversa. ‘Ningunea-se’ o outro. Uso esta expressão que é algo que se utiliza com frequência na Argentina. ‘Ningunear’ significa ‘não ver’, ‘isolar, neutralizar, nadificar’ o outro. Morando em Buenos Aires, presenciei vários casos em que alguém se revoltava contra isso, ou seja, fosse o caso alguém ser ‘ninguneado’, era algo que não passava disperso, algo que gerava ira, fúria, revolta. Imaginemos o caso, alguém que chega e te pede um prato de comida, ou te pede algo, uma esmola qualquer, e você finge que não o vê, vira para o outro lado o rosto, isso não passa de forma tranquila. Aqui, sequer temos uma expressão para traduzir este fato que nos é imenso comum.
Espelhei atores que interferiam em meio às gentes que passavam apressadas e simplesmente desviavam o passo para seguir, apressados e autômatos, a sua rotina de urgências. Funcionou bastante o dispositivo.
Noutros lugares em que filmamos, não foi necessário tal coisa, eram lugares de trânsito também, mas o intento da captura de imagens nestas circunstâncias era outro. Exemplo disto era no Restaurante Popular ou no vagão de trem. Queríamos a cena captada de forma a menos interferida, a menos manipulada possível.
4
Aline Goldberg: O filme foi escrito em 2018? Como o personagem, artista de rua, refletiu as tensões sociais e políticas desse ano?
Tal como mencionei o personagem está banhado, corpo inteiro, nos rumores e nas gritas que se expressam na luta de classes e nas urgências que motivam os atores sociais – que todos somos.
Diria que, para além de um debate mais abstrato sobre este ou aquele instante histórico no que ele pudesse estar representado por nosso personagem, arriscaria dizer que o fato do fechamento dos restaurantes populares na cidade do Rio de Janeiro – naquele instante apenas três estavam em funcionamento – era expressão do corte de verbas destinadas à políticas públicas que o golpe de Estado fez acentuar.
Por outro lado, certa forma de ‘gestão’ da coisa pública tal como a entrega da rede ferroviária de trens urbanos à empresas privadas tais como a Super Via, cenário que se faz ver no filme, não está restrito à imediatez do agora, ou ao golpe de Estado de 2016, ou sequer a emergência de um governo protofascista em uma gestão de turno da máquina burocrática de opressão do Estado capitalista. Tal coisa remete aos anos 90 e seguintes, período este que apenas se fez possível porque se pavimentou, durante as ditaduras latino-americanas, as condições de possibilidade históricas de sedimentação das condições objetiva e subjetiva da rapinagem neoliberal.
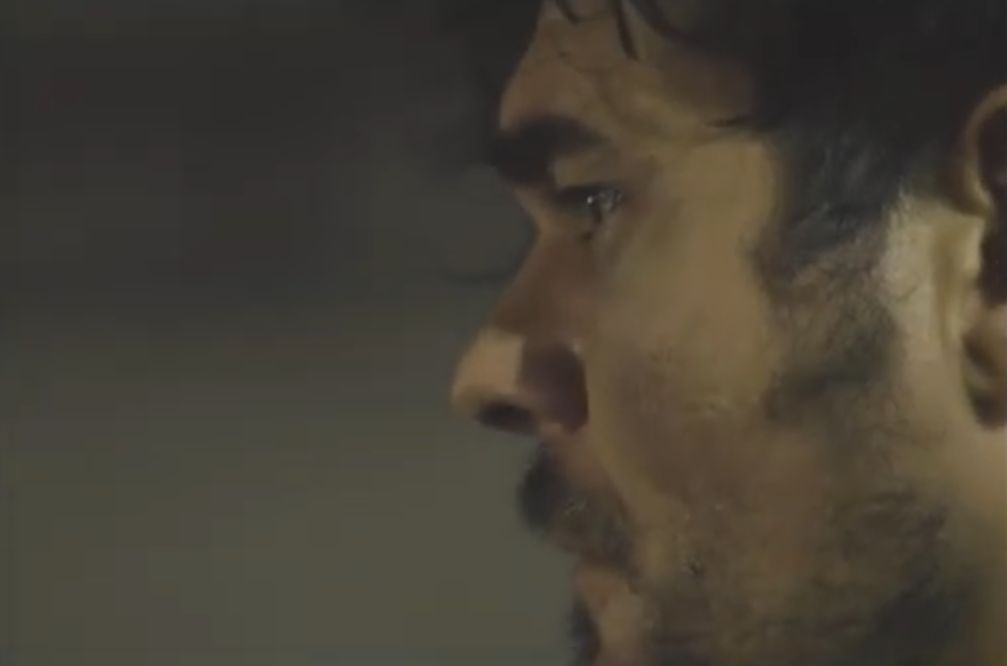
5
Aline Goldberg: Você diria que João Parapeito é um filme que discute as questões fundamentais das minorias? Como você lê o rebatimento do seu filme em relação à circulação nos festivais, streamings, exibições em salas de cinema?
Diria que o filme escolhe abordar tema central à maior do povo brasileiro, ou se quisermos, às camadas populares de nosso país e da América Latina – tema este que evoca, em tom crítico, a opressão capitalista que as submete ao regime de superexploração da força de trabalho.
João Parapeito é o homem comum que tem que matar um leão hoje e outro amanhã para conseguir o básico e fundamental que lhe garanta a reposição das necessidades orgânicas e vitais que nos mantém vivo. Sabemos que a parcela da população brasileira que vive em tais condições não é, sob qualquer aspecto, minoritária. Pelo contrário, diz respeito a maior parte de nossa população, qual seja, a dos trabalhadores que estão submetidos a precarização de seus direitos sociais e trabalhistas, às gentes que estão entregues à própria sorte. Muitos deles, a grande maioria, vivendo de bicos, de biscates. Palavras, expressões que, hoje, sequer se utiliza. Lembro que, há algum tempo, se dizia daqueles que não tinham carteira assinada, emprego fixo e regular, que viviam de bicos e de biscates, fazendo uma coisa aqui e outra ali. Era tido como uma condição intermédia, um instante entre um emprego e um desemprego, e então se tinha que fazer bicos, biscates. Ou então, e não era pouco comum isto, quando acontecia que o salário que se ganhava não era suficiente para se atravessar as necessidades de um mês inteiro, e então se fazia bicos.
Hoje, a grande maioria da população brasileira vive de bicos, de biscates. Basta um brevíssimo caminhar pelas ruas e estradas de nosso país continental. Gente que vive sem qualquer garantia social, sem qualquer assistência, sem qualquer aceno de férias ou fins de semana remunerados, aposentadoria, ou coisas do gênero. For o caso adoecer, morre-se nas filas dos hospitais. Isto quando se consegue o transporte até um hospital. Ou então, se morre de cansaço, porque depois de tanta extenuação, o corpo grita e se sacode a não mais poder.
Entretanto, a máquina de fabulação ideológica do capitalismo operou o milagre da transmutação de sentido e significação à esta condição que era a do desemprego, ou a este período a que me referi como intermédio, o dos bicos e biscates. Hoje se chama de empreendedorismo. Todos são seus próprios patrões. Espécie de milagre radical de multiplicação do nada. O que estou dizendo? O pequeno empreendedor de si é o proprietário de nada, dono de coisa nenhuma – sequer de sua força de trabalho, toda ela sucateada e repartida entre tantos aplicativos e ilusionismos.
Certos uns pensam ou acreditam que se trata também do operar outras mágicas sacadas às cartolas da prestidigitação (ilusão dos dedos e da vontade) – são, neste caso, aqueles que pleiteiam espaços de representação simbólica, ou seja, estar aqui e ali representados como sendo condição de superação, expressão de resiliência, e emancipação. Forma curiosa a de se querer representado, tantas vezes, no interior das máquinas e aparelhos de opressão – por vezes, nos meios de propaganda e publicidade da burguesia (eufemisticamente chamados de meios de comunicação), noutra vezes, no aparato judiciário-penal, ou no parlamento onde prima o cinismo da palavra e da participação. São fórmulas mágicas do pensamento típicas desta etapa histórica que nos tem tocado viver. Chega-se ao limite de pensar que multiplicando o aparato de leis e de sua prescrição punitiva se irá consertar os males da sociedade. Sem que se perceba, se colabora na construção do que lhes catapultará ao precipício. Talvez sejam as hordas do abismo, como outrora mencionou Jack London.
Diria que isto está rebatido, de forma contraditória e complementária, em distintas searas das relações sociais e no corpo das instituições. Nos festivais, nas curadorias, nas janelas de exibição da produção cinematográfica. Nada que possa e deva surpreender se não se é um incauto. Trata-se do traçado ideológico de sustentação hegemônica da máquina de produção capitalista. E o cinema, assim como o mercado das artes, sabemos – estou me referindo a sua dinâmica industrial, a sua produção e distribuição em escala internacional – se fez e se faz, tantas vezes, peça-mestra para a conformação superestrutural a que me refiro.
João Parapeito tem circulado a contrapelo. Conseguiu avançar em alguns poucos festivais. Seria surpreendente se fosse diferente. Entretanto, este ano pudemos coordenar diversas exibições, sempre seguidas de debates bastante interessantes com o público presente. E isto nos é riquíssimo e fundamental.
Aline Goldberg é Doutora em Letras: Literatura Comparada (UERJ). Pós Doutoranda no Programa de Pós-graduação em Letras da Universidade Federal do Espírito Santo (PPGL/Ufes), sob supervisão de Gaspar Paz, onde desenvolve pesquisa sobre a obra ficcional de André Queiroz.
Texto: Rafael Cuevas Molina - Presidente AUNA-Costa Rica
Texto: Miriam Santini de Abreu - jornalista, mestre em Geografia e doutora em Jornalismo
Texto: Elaine Tavares
Texto: IELA